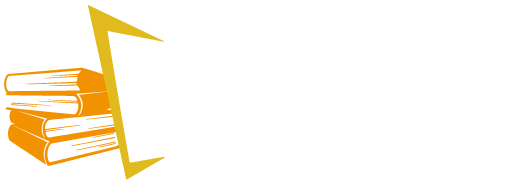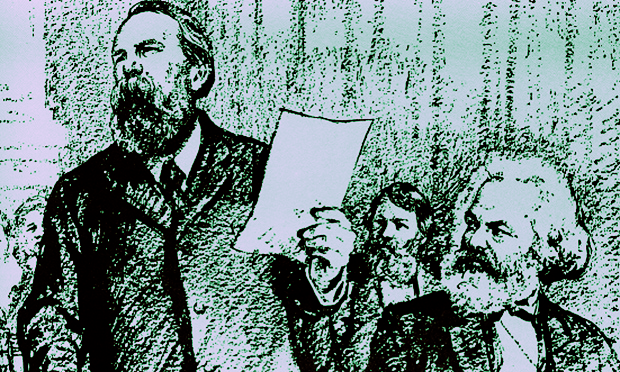Como analisamos, uma miríade de tendências questiona o legado de Engels. Alguns acusam-no de ser responsável pela deriva reformista na social-democracia do século XX; outros veem nele a justificação dos totalitarismos estalinistas e da crise que estes provocaram no seio do marxismo.
Por José Welmowicki
Temos um exemplo desta última visão no texto de Héctor Benoit, “Da dialética da natureza à exagerada estratégia política de Engels”, publicado no livro A obra teórica de Marx.
Héctor Benoit foi um dos fundadores e referência teórica do grupo brasileiro Negação da Negação, que atualmente tem o nome Transição Socialista. Embora se trate de um grupo de pequena influência política, Benoit, que leciona na Universidade Estadual de Campinas, possui certa influência no “marxismo académico”, na área da filosofia.
Segundo Benoit, dessa obra de Engels partiria a visão determinista – que se teria expresso na Introdução de 1895 a As Lutas de Classes na França, de Marx – que constituiria a base teórica não só de toda a orientação reformista e revisionista subsequente do SPD, como também do estalinismo. O materialismo dialético e o materialismo histórico seriam criações de Engels, que serviram aos desígnios do estalinismo.
“Nesta obra, Dialética da Natureza, assim como em algumas páginas de Anti-Dühring, de fato citando muitas vezes Hegel, Engels desenvolve precisamente a teoria de que existe uma dialética objetiva presente na natureza. Essa dialética apareceria refletida nas leis gerais descobertas pelas modernas ciências naturais, nas leis do pensamento e seria reencontrada e confirmada na concepção dita “científica” da história humana (aquela desenvolvida por Marx e por ele próprio). Engels esboça assim a hipótese de que existiria uma certa legislação dialética única que governa a história da natureza, do pensamento e da história humana, estas últimas subjugadas àquela. Essa hipótese apoiava-se fundamentalmente em três fontes teóricas: a dialética hegeliana, a conceção marxista da História e as modernas ciências naturais (…) Por outro lado, onde encontraremos seguidores dessas conceções políticas do último Engels? Exatamente naqueles que também se distinguiram por adotar uma versão cientificista do marxismo: Bernstein, Kautsky e o stalinismo (…) Ambos, Bernstein e Kautsky, são declaradamente seguidores de um materialismo evolucionista e, não por acaso, foram inspiradores teóricos diretos do reformismo que desembarcou em agosto de 1914, e que se desenvolveu posteriormente provocando sucessivas derrotas da classe operária europeia, derrotas que levaram, finalmente, ao fascismo e ao nazismo.
“Paralelamente, encontramos a doutrina engelsiana, sobretudo nos manuais do marxismo stalinista. Os quais repetem, de fato, os grandes esquemas de Engels relativamente à dialética da natureza, às leis lógicas gerais que se presumiriam válidas no domínio da natureza e da História, e que assim fundariam, de um lado, o materialismo dialético (uma espécie de epistemologia marxista que conteria as leis da teoria do conhecimento marxista) e, de outro lado, o materialismo histórico (uma sociologia dinâmica e antropológica que conteria as leis do desenvolvimento humano). Estaríamos, assim, com o materialismo dialético e com o materialismo histórico, em contraposição ao “sistema de mundo marxista”, um sistema naturalista-positivista que permitiria prever, com um rigor científico inegável, o curso da natureza e da História.” 1
Em primeiro lugar, Benoit reproduz uma versão vulgarizada da compreensão de Engels sobre a dialética da natureza, “uma certa legislação dialética única que governa a história da natureza, o pensamento e a história humana, estas últimas imersas nessa mesma legislação”, e repete as acusações infundadas de que Engels simplesmente aplica essas leis gerais à natureza e à história como se fossem um todo idêntico, numa visão mecânica e evolucionista.
Em segundo lugar, procura as raízes do reformismo da II Internacional apenas nas ideias e não nas contradições concretas que atravessaram a social-democracia face à ascensão do imperialismo e, mais adiante, as bases do stalinismo. Considera que todo o desenvolvimento do reformismo e do stalinismo já estava implícito na tese do último período de Engels, sucedendo-se numa evolução linear: do último Engels a Bernstein, depois a Kautsky, depois… ao stalinismo. Eis a explicação, segundo essa versão, da bancarrota da II Internacional e do papel contrarrevolucionário do estalinismo. Por essa versão, o “pecado original” estaria em Engels, pelo menos desde o Anti-Dühring (1877-1878) e a Dialética da Natureza (póstumo).
O artigo de Benoit associa os últimos anos de Engels diretamente ao revisionismo e ao reformismo, aceitando a falsificação de Bernstein, que considera a Introdução de 1895 de Engels em As Lutas de Classes na França, de Marx, como o seu Testamento. Um artigo de Francesco Ricci 2 já demonstrou que a versão popularizada é uma edição deturpada do texto original de Engels. O artigo de Marcos Margarido neste dossiê mostra que outro artigo 3 utilizado por Benoit não resiste a uma análise séria. Como mostra Lenin em O Estado e a Revolução 4, entre 1878 e 1895 Engels escreveu várias obras nas quais reafirma as conceções marxistas do Estado e da necessidade de uma revolução violenta, extraídas das lições da Comuna de Paris de 1871.
Em 1879 (isto é, depois da publicação do Anti-Dühring), Marx e Engels escrevem uma circular ao partido alemão 5, atacando impiedosamente um grupo sediado em Zurique, do qual fazia parte Bernstein, como pequenos-burgueses que pretendiam retornar ao socialismo verdadeiro 6 e contagiar o SPD com ideias reformistas 7, repudiando-os energicamente. Alguns dos textos desse período são clássicos, como A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de 1884, do qual Lenin extraiu boa parte das citações para escrever O Estado e a Revolução, para demonstrar que o Estado é constituído essencialmente pelo aparato represivo militar, cujo objetivo é impor o poder burguês e explorar as classes dominadas, e que é necessário quebrar a máquina do Estado burguês, mesmo nas suas formas republicanas.
Em 1891, Engels, por ocasião do 20º aniversário da Comuna, publica um prefácio ao texto de Marx, A Guerra Civil na França 8, de 1871, e reflete sobre o “filisteu social-democrata” que expressava “horror” à “ditadura do proletariado”. Em 1894, escreve uma carta a Paul Lafargue, combatendo a intervenção reformista de Jean Jaurès no parlamento francês. Lenin referiu-se a todos esses textos nas suas anotações para escrever O Estado e a Revolução, publicados nas suas obras completas, no tomo 33, como Cadernos sobre Marxismo e o Estado. Mas, para justificar o argumento da “exagerada fase de Engels”, era necessário ignorar esses textos, incluídos trechos do próprio Anti-Dühring, citados por Lenin.
Além disso, a incoerência é de tal magnitude que não se percebe uma contradição evidente no seu raciocínio: como é que os dirigentes marxistas revolucionários mais importantes do século XX, como Rosa Luxemburgo, Lenin e Trotsky, continuaram a reivindicar toda a obra de Engels? Lenin e Trotsky reivindicavam, explicitamente, a elaboração filosófica dos textos de Engels, que Benoit ataca como mecanicistas e base para o reformismo. Todos eles foram categóricos em defender, até ao fim das suas vidas, Marx e Engels como os seus mestres. Ou será que os três não conseguiram perceber o grau de revisionismo presente em Engels nessa fase? Mesmo nessa visão de sucessão linear e esquemática, que vai de Engels a Bernstein e a Kautsky, Benoit está equivocado, pois vê Kautsky como um revisionista desde o início do seu papel como teórico no SPD. Contudo, a realidade é dialética. Kautsky foi reivindicado tanto por Lenin como por Trotsky até a Primeira Guerra Mundial, quando se produziu a grande traição que marcou a bancarrota da Segunda Internacional.
Portanto, essa tese de uma sucessão evolutiva de teorias carece de base na realidade no que diz respeito à evolução da própria social-democracia e ignora todo o complexo processo de luta de classes e da sua adaptação contraditória à democracia burguesa, que, segundo Lenin 9, foi produto do surgimento de uma base social – a aristocracia operária – que sustentou a revisão social-democrata. Ignora um duro processo de luta política interna, sob a pressão da burguesia imperialista e dos Estados burgueses sobre os partidos social-democratas e a burocracia sindical, que levou a Segunda Internacional à degeneração.
Da mesma forma, o surgimento da burocracia soviética e de Stálin ocorreu devido ao processo objetivo de isolamento da revolução russa num país atrasado e à criação de uma base social na própria burocracia do Estado operário soviético. Para controlar o poder, a burocracia entablou uma feroz luta contrarrevolucionária, renunciando ao programa e à teoria marxistas, à herança teórica de Marx e Engels.
Stálin rejeitou explicitamente princípios como o internacionalismo que Marx e Engels expressaram claramente tanto no Manifesto Comunista como na Primeira e Segunda Internacionais, de que o socialismo se realizaria numa escala mundial – uma ideia oposta à do socialismo num só país, típica do stalinismo. Para Marx e Engels, o desenvolvimento internacional do capitalismo determina o caráter internacional da revolução operária. Isto demonstra como o stalinismo se opõe a Marx e Engels e o retrocesso que a teoria do “socialismo num só país” significou.
Stálin teve de liquidar fisicamente a ala revolucionária que lutava por manter as bases programáticas e teóricas de Marx e Engels: a Oposição de Esquerda na URSS e o seu principal dirigente, Trotsky.
Entre aqueles que consideravam os textos de Engels como os precursores do stalinismo, existe outra vertente: aquela que critica a proposta de se chegar ao socialismo apenas através da tomada do poder pela classe operária e da destruição do Estado burguês. Segundo estes, seria uma visão reducionista, por ser de classe, que levaria necessariamente a uma visão destrutiva e autoritária, expressa na defesa da ditadura do proletariado.
Para este tipo de posição, Engels cometia o pecado de não ver o papel da política, das mediações no terreno do Estado – variantes de medidas de corte “democrático radical”. Essa corrente de pensamento teve grande divulgação e alcançou uma série de setores que se reivindicavam marxistas, até mesmo uma corrente que surgiu do trotskismo, a maioria do Secretariado Unificado da IV Internacional, cujo maior dirigente e teórico foi Ernest Mandel. Já nos anos 70-80, este refletia a pressão do eurocomunismo para abandonar a defesa da ditadura do proletariado. Posteriormente, com a restauração do capitalismo no Leste europeu, teóricos como Daniel Bensaïd e Michael Lowy levaram a uma dinâmica na direção do reformismo. No Brasil, Juarez Guimarães, dirigente e teórico da DS, uma tendência do PT, no seu livro Democracia e Marxismo 10, acusa Engels de ver apenas como saída socialista a ditadura do proletariado, numa perspetiva clasista (para ele, equivocada). Herdeiro dessa interpretação, Guimarães passou a defender uma “revolução democrática” e a combater a “ditadura do proletariado”. 11
É verdade que Guimarães identifica a origem dos problemas em Marx, onde já haveria “tensões constitutivas”. Ou seja, haveria contradições entre o determinismo presente em obras como O Capital e o Prólogo à Contribuição para a Crítica da Economia Política e uma visão “praxiológica da história”, presente em obras anteriores, como O 18 Brumário de Luís Bonaparte 12. Engels seria responsável pela “primeira onda determinista”, que acabaria por preparar o terreno para o determinismo de Kautsky e do “DIAMAT” 13 de Stálin.
De forma muito superficial, com citações fora de contexto e interpretadas de modo unilateral, Guimarães afirma que, a partir do Anti-Dühring, Engels teria uma visão em que “o marxismo seria, então, compreendido de forma dual: materialismo histórico (a ciência da sociedade e da natureza) e materialismo dialético (o estudo das leis do conhecimento). O Capital seria a expressão máxima do primeiro e a sistematização contida na obra filosófica de Engels, a referência fundamental para a edificação do segundo. O edifício dogmático do marxismo estava de pé, subordinando ou restringindo o mundo polimórfico e variante da política às rígidas certezas das ciências, paradoxalmente ancorando toda essa construção num método exterior e dotado do paradigma das ciências naturais da época.”
De forma semelhante a Benoit, Guimarães coloca-se contra o materialismo dialético e histórico e acusa Engels de ser o responsável pela construção do “edifício dogmático” do marxismo, que seria depois assumido pelo estalinismo. Guimarães cita as cartas de Engels a Joseph Bloch e C. Schmidt de 1890, comentando que o seu conteúdo mal “revela as inconsistências lógicas contidas no sistema formulado por Engels” 14, embora, justamente, nessas cartas Engels alertasse contra a distorção de suas ideias por alguns seguidores, a ponto de tornar “absurda” a conceção marxista.
Na verdade, o que Guimarães questiona é que a política tenha de se basear numa conceção materialista da história, elaborando a sua proposta a partir da definição das bases econômicas e sociais concretas da sociedade, numa perspetiva de classe. Para ele, isso seria “subordinar ou restringir o mundo polimórfico e variante da política”, embora Engels alertasse justamente contra alguns seguidores que tentassem extrair das suas elaborações e das de Marx conclusões materialistas vulgares e deterministas, baseadas exclusivamente na estrutura econômica da sociedade – algo que Engels refuta com firmeza, afirmando que é necessário compreender a relação entre a economia e as formas políticas, jurídicas e culturais, não de forma mecânica, mas reconhecendo a existência de uma ação recíproca entre os factores superestruturais, culturais ou ideológicos da sociedade e a economia, deixando claro que esses seguidores não compreenderam que a determinação econômica prevalece, em última análise, não como uma relação direta e mecânica. 15
Podemos deduzir que, para Guimarães, no mundo polimórfico da política, as propostas devem ser completamente autônomas da base social e económica, abandonando a visão marxista contida em A Ideologia Alemã.
Rosa Luxemburgo recorre a Engels na luta contra os reformistas da Segunda Internacional
Vejamos como os revolucionários que lideraram o combate teórico e político contra a degeneração reformista da II Internacional e, posteriormente, contra a contrarrevolução stalinista, apelaram aos ensinamentos deixados por Engels.
Comecemos por dizer algo sobre Rosa Luxemburgo. Rosa foi a vanguarda do combate ao revisionismo de Eduard Bernstein já em 1899, no seu clássico texto Reforma e Revolução. Rosa nunca aceitou a tentativa de Bernstein de pintar Engels como se este tivesse se transformado num reformista no final da sua vida. Coerente com essa posição, no seu famoso texto escrito na prisão, no qual denuncia a traição da social-democracia na Primeira Guerra – A Crise da Social-Democracia, conhecido como o Panfleto Junius –, ela apoia-se nas elaborações de Engels para contestar a posição do Partido Social-Democrata e da maioria da II Internacional:
“… que leva a converter-se num sistema de dogmas – que também exercem a sua influência nas lutas históricas e, em muitos casos, determinam a sua forma como fator predominante. Trata-se de um jogo recíproco de ações e reações entre todos esses fatores, no qual, através de uma infinita multitude de acasos (isto é, de coisas e acontecimentos cuja conexão interna é tão remota ou tão difícil de demonstrar que podemos considerá-la inexistente ou subestimá-la), acaba por impor-se, como necessidade, o movimento econômico. Se não fosse assim, a aplicação da teoria a qualquer época histórica seria mais fácil do que resolver uma simples equação do primeiro grau. Nós mesmos fazemos a nossa história, mas isso ocorre, em primeiro lugar, de acordo com premissas e condições muito concretas. Entre elas, são as premissas e condições económicas que decidem, em última instância.… Os homens não fazem a história arbitrariamente, mas, apesar disso, fazem-na eles mesmos. A ação do proletariado depende do grau de maturidade do desenvolvimento social. Mas o desenvolvimento social não é independente do proletariado. Este é, na mesma medida, a sua força motriz e a sua causa, bem como o seu produto e a sua consequência. A própria ação do proletariado integra a história, contribuindo para a defini-la (…). É por isso que Friedrich Engels invoca a vitória definitiva do proletariado como um salto da humanidade do reino animal para o reino da liberdade. Esse salto também está ligado às leis de bronze da história, aos mil elos de um desenvolvimento anterior, doloroso e demasiado lento. Mas nunca poderia ser realizado se, do conjunto dos pré-requisitos materiais acumulados pelo desenvolvimento, não surgisse a centelha da vontade consciente das grandes massas populares.” 16
Teria Lenin superado Engels e seu “mecanicismo”?
Existe outra lenda também transmitida por vários autores, segundo a qual Lenin teria seguido Engels no terreno filosófico, referindo-se aos chamados Cadernos Filosóficos de 1915. Entre eles, Raya Dunayevskaya, fundadora do marxismo humanista 17 – que fez a primeira tradução para o inglês dos Cadernos Filosóficos de 1915.
No entanto, vejamos a verdadeira história. Na homenagem a Engels, quando este falece em 1895, Lenin declarou:
“A filosofia de Hegel tratava do desenvolvimento do espírito e das ideias; era idealista. Do desenvolvimento do espírito, a filosofia de Hegel deduzia o desenvolvimento da natureza, do homem e das relações entre os homens no seio da sociedade. Retomando a ideia hegeliana de um processo perpétuo de desenvolvimento… Marx e Engels rejeitaram a concepção idealista pré-concebida; analisando a vida real, constataram que não é o desenvolvimento do espírito que explica o fenômeno da natureza, mas, ao contrário, é necessário explicar o espírito a partir da natureza, da matéria… Ao contrário de Hegel e dos hegelianos, Marx e Engels eram materialistas. Partindo de uma concepção materialista do mundo e da humanidade, verificaram que, tal como todos os fenômenos da natureza têm causas materiais, igualmente o desenvolvimento da sociedade humana é condicionado pelo desenvolvimento das forças materiais, as forças produtivas.” 18
Em 1913, Lenin escreveu As Três Fontes e as Três Partes Constitutivas do Marxismo e, em 1914, para uma enciclopédia, escreveu Karl Marx, um Breve Esboço Biográfico Seguido de uma Exposição do Marxismo, mantendo a mesma compreensão do texto de 1895.
Os Cadernos Filosóficos são a edição de um caderno de anotações de Lenin sobre as suas leituras dos clássicos de Hegel durante a Primeira Guerra Mundial, decisivos para o avanço da elaboração do principal dirigente do Partido Bolchevique relativamente ao caráter da Revolução Russa, ao imperialismo e para compreender as raízes da bancarrota da Segunda Internacional e do seu revisionismo. Esse estudo, portanto, foi decisivo para que Lenin progredisse na sua elaboração.
Mas, vários intelectuais utilizam-nos como suposta demonstração de que Lenin seguiu, de forma acrítica, Engels até 1914, mas que, ao ler Hegel, percebeu os erros de Engels e passou a negá-los e superá-los. Como eram cadernos de anotações das suas leituras, constituíam-se em observações pontuais para a sua autocompreensão e uso posterior. Ainda assim, não é difícil perceber que é falsa a interpretação de que Lenin questiona Engels em uma forma semelhante à desses intelectuais. Em relação ao tema da dialética da natureza e a elaboração de Engels, Lenin fez os seguintes comentários, a partir da leitura de Hegel:
“‘Na natureza’, os conceitos têm ‘carne e osso’ – isso é excelente! Mas isso é exatamente materialismo. Os conceitos humanos são a alma da natureza – isso é apenas uma maneira mística de dizer que, nos conceitos humanos, a natureza reflete-se de modo peculiar (isso NB 19: de modo peculiar e dialético!!), NB De onde vem essa coincidência? 20 De Deus (eu, ideia, pensamento, etc., etc.) ou da natureza? Engels tem razão em seu modo de colocar a questão.” 21
Como se elucida na edição da Boitempo editora, Lenin apoia-se no texto de Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã para mostrar que a dialética se aplica à natureza, mas de modo peculiar, ou particular, assim como faz Engels em seu texto.
“O conceito (o conhecimento) revela no ser (nos aparecimentos imediatos) a essência, a lei da causa, da identidade, da diferença, etc. – é esse realmente o curso geral de todo conhecer (toda a ciência) humano em geral. Esse é o curso tanto da ciência da natureza como da economia política ‘e da história’. A dialética de Hegel é, nessa medida, a generalização da história do pensamento. Parece uma tarefa extraordinariamente grata seguir isso mais concretamente, mais detalhadamente, na história das ciências singulares. Na lógica, a história do pensamento deve, no geral, coincidir com as leis do pensamento.” 22
Mais uma vez Lenin afirma ter a mesma posição de Engels (e Marx), que a dialética se aplica tanto nas ciências naturais quanto na história. Mais adiante, ele volta a ressaltar que a ciência natural mostra as mesmas leis da dialética, aplicadas à natureza:
“… a ciência da natureza contudo mostra-nos (e aqui, mais uma vez, é preciso mostrar isso em qualquer exemplo simplicíssimo) a natureza objetiva em suas próprias qualidades, a transformação do singular no universal, do contingente no necessário, transições, fluíres, e a conexão mútua dos opostos…” 23
A afirmação de que Lenin “supera o determinismo de Engels” é baseada em apenas uma citação:
“A exatidão deste aspeto do conteúdo da dialética deve ser comprovada através da história da ciência. Habitualmente (por exemplo, em Plekhanov) dá-se atenção insuficiente a este aspecto da dialética: a identidade dos opostos é tomada como somatória de exemplos (‘por exemplo, o grão’; ‘por exemplo, o comunismo primitivo’). Isto também acontece em Engels. Mas isto ‘a fim de popularizar’ e não como lei do conhecimento (e lei do mundo objetivo).” 24
A única coisa que Lenin afirma, ao criticar o materialismo de Plekhanov – para quem a identidade dos opostos é tomada como soma de exemplos e transformada em lei do conhecimento – é que Engels, sem cair nesse tipo de interpretação mecânica, apresenta alguns problemas em textos de divulgação.
Enfim, na quase totalidade dos casos, Lenin cita Engels para reivindicar a sua elaboração filosófica nos livros Anti-Dühring e Ludwing Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, e como base de apoio para as suas críticas a Hegel.
Anos mais tarde, em 1922, Lenin faz uma conferência na Academia de Ciências da URSS, publicada sob o título O Materialismo Militante, onde refere, com toda a clareza, a necessidade de aplicar o materialismo dialético às ciências naturais, de forma semelhante a Engels:
“E, para não abordar tal fenómeno de forma inconsciente, devemos compreender que, sem uma sólida fundamentação filosófica, não há ciência da natureza nem materialismo que possa suportar a luta contra o investidura das ideias burguesas e o reestabelecimento da conceção burguesa do mundo […] Os cientistas modernos encontrarão (se souberem procurar e se nós aprendermos a ajudá-los) na interpretação materialista da dialética de Hegel uma série de respostas às questões filosóficas suscitadas pela revolução nas ciências naturais e que fazem ‘patinar’ para a reação dos admiradores intelectuais da moda burguesa”. 25
Como se pode constatar, Lenin, no seu processo de elaboração acerca da dialética materialista, fez importantes progressos, mantendo, contudo, um ponto de vista idêntico ao de Engels sobre a relação entre a natureza, o homem e a sociedade e sobre a aplicação da dialética na natureza e, portanto, nas ciências naturais.
Trotsky e Engels
O grande dirigente da Revolução Russa e fundador da IV Internacional defendeu o materialismo dialético durante toda a sua trajetória, e a aplicação da dialética à ciência, tal como fizeram Engels e Lenin. Na luta contra a burocracia stalinista, escreveu o texto As Tendências Filosóficas do Burocratismo, de dezembro de 1928, no qual afirma:
“Que, desde logo, é a principal função social da burocracia e a fonte da sua preeminência; deixam, inevitavelmente, uma marca bem definida em todo o seu modo de pensar. Não é por acaso que palavras como ‘burocrático’ e ‘formalismo’ se aplicam não só a um sistema de administração ou gestão, mas também a um modo definido do pensamento humano… Essas características podem também ser encontradas na filosofia (…) O materialismo não rejeita os fatores, assim como a dialética não rejeita a lógica. O materialismo utiliza os fatores como um sistema de classificação dos fenômenos que surgiram historicamente – qualquer que seja o modo em que a sua essência espiritual possa ser ‘delimitada’ – a partir das forças produtivas subjacentes e das relações sociais e, a partir das bases naturais, históricas, isto é, materiais, da natureza” (…) “Não há dúvida de que uma aplicação consciente do materialismo dialético às ciências naturais, com uma compreensão científica da influência da sociedade de classes sobre os objetivos, os métodos, as metas da investigação científica, enriqueceria as ciências naturais e as reestruturaria em muitos aspectos, revelando novos laços e conexões, e dando às ciências naturais um lugar de renovada importância na nossa compreensão do mundo (…).” 26
Pouco antes de ser assassinado, em 1939, Trotsky volta sobre o assunto no livro Em Defesa do Marxismo:
“Chamamos ‘materialista’ a nossa dialética porque está baseada não no céu nem no nosso ‘livre arbítrio’, mas na realidade objetiva, na natureza. A consciência surge da inconsciência, a psicologia da fisiologia, o mundo orgânico do inorgânico, o sistema solar das nebulosas. Em todos os elos desta cadeia, as mudanças quantitativas transformam-se em saltos qualitativos. O nosso pensamento, incluído o pensamento dialético, não é senão uma forma de expressão deste mundo mutável. Neste sistema não há lugar para Deus, nem para o destino, nem para a alma imortal, nem para normas, leis ou morais eternas. O pensamento dialético que surgiu da natureza dialética do mundo possui, consequentemente, um carácter totalmente materialista. O darwinismo, que explica a evolução das espécies através de ‘saltos qualitativos’, foi o maior triunfo da dialética no campo das ciências naturais. Outro grande triunfo foi a descoberta da tabela de pesos atômicos dos elementos químicos e dos processos de transformação de um elemento noutro.” 27
Por que reivindicar Engels contra os ataques infundados é decisivo hoje para desenvolver o marxismo?
Não estamos perante uma discussão abstrata. As correntes que questionaram Engels em nome de um marxismo “crítico”, “autêntico”, “humanista” cresceram em virtude da crise do estalinismo e foram ganhando peso, especialmente no chamado “marxismo acadêmico”.
Muitos, em nome de um marxismo “não determinista”, afastaram-se da conceção materialista da história, negando que esta possa ter qualquer desenvolvimento dialético. Acabaram, assim, por golpear os pilares do marxismo. Como demonstraram Havemann e Trotsky, o stalinismo é uma distorção total de Marx e Engels, e não a “extensão” das posições de Engels, que seria uma suposta primeira onda determinista ou uma versão cientificista do marxismo.
Por outro lado, rejeitar a ideia clássica mecanicista de que o futuro está plenamente determinado não pode levar à conclusão de que o futuro esteja totalmente indeterminado. Como diz Havemann, “o futuro está codeterminado pelo passado, mas não está determinado de forma definitiva e absoluta”, ou, nas palavras de Marx, em O 18 Brumário de Luís Bonaparte:
“Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias da sua escolha, mas sim sob aquelas com que se deparam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos.” 28
No surgimento do stalinismo, tanto os adversários declarados do marxismo como o próprio Stálin divulgaram a ideia de que a sua “doutrina” era a verdadeira continuidade de Lenin. Os stalinistas opunham Trotsky a Lenin, falsificando a história e apresentando-se como os continuadores de Lenin, atacando o trotskismo. Em que pontos atacavam o Trotsky? Justamente nos princípios do internacionalismo, na visão de que o socialismo só era possível se a revolução socialista se alastrasse pelos países desenvolvidos e se desenvolvesse a nível mundial – pontos com os quais Trotsky concordava profundamente com Lenin desde 1917 em diante.
Os antiengelsistas pretendem, em nome da busca por um Marx autêntico, atacar as bases do próprio marxismo. Em oposição ao determinismo estalinista, querem reconstruir um tipo de teoria do “indeterminismo”, em que tudo é fortuito, nada tem história, nada é fruto das leis do desenvolvimento; a consequência é a negação do materialismo histórico. Para Guimarães, essa concepção não se aplica nem ao passado nem ao presente.
A rejeição do materialismo histórico pelos antiengelistas abre, por um lado, terreno para a defesa do acaso absoluto na história, onde o que predomina é a nossa consciência. Por conseguinte, procuram convencer-nos da virtude da democracia, da igualdade e da justiça, para que, dessa forma, a humanidade chegue organicamente ao socialismo. Nesse caso, o socialismo seria essencialmente fruto da afirmação de um ideal, uma proposta ética, de cunho moral, e não uma proposta científica baseada na realidade, num análise rigorosa e verificável das tendências do desenvolvimento da nossa sociedade. Isso nada tem a ver com as posições de Marx e Engels, com o socialismo científico. Estaríamos, assim, de volta – por mais que esses setores não o mencionem – ao socialismo utópico, à defesa do “homem novo”, da essência humana, etc. No pleno século XXI, isso se materializa na proposta de uma democracia radical como substituta do socialismo.
Contra os socialistas utópicos do século XIX, Engels apontou a necessidade de se fundamentar no desenvolvimento real da sociedade e no domínio crescente do homem sobre a natureza e, simultaneamente, na contradição antagônica entre o caráter social da produção e a sua apropriação individual pelos capitalistas.
Para Benoit, os problemas encontram a sua origem no capitalismo. As teses de Benoit conduzem a um reducionismo que limita o marxismo ao estudo da sociedade capitalista. Considera o materialismo histórico, assim como o materialismo dialético, como um “sistema naturalista-positivista que permitiria prever o curso da natureza e da história”, o qual, portanto, deveria ser abandonado como herança nefasta do estalinismo apoiado no “exagerado Engels”.
Benoit deixa o proletariado sem qualquer ferramenta teórica, pois nega a possibilidade de existir uma teoria que permita ter uma perspetiva histórica. Qual seria então a orientação para a estratégia da revolução?
Como escreveu Trotsky, essa conceção materialista da história foi o que permitiu elaborar o Manifesto Comunista em 1847, que foi aplicado de forma magistral em O 18 Brumário e noutras obras de Marx e Engels. Toda a elaboração subsequente, incluindo as de Lenin e Trotsky, a Teoria da Revolução Permanente, as Teses da III Internacional e o programa da IV Internacional, apoia-se numa análise materialista da história da sociedade capitalista, numa análise marxista da sociedade, da economia e da luta de classes. Como se pode continuar a desenvolver o programa revolucionário sem uma concepção materialista da história? Basear-se apenas na crítica da economia política? Essa posição, aparentemente de esquerda, acaba por desarmar a classe operária para ter um programa e responder às tarefas políticas concretas.
Trotsky, na sua elaboração da teoria da revolução permanente, explicava que esta se baseava na aplicação consistente do materialismo histórico à realidade concreta e contra o materialismo vulgar. Imaginar que a ditadura do proletariado depende, de algum modo, automaticamente do desenvolvimento técnico e dos recursos de um país é um pré-conceito do materialismo “econômico” simplificado ao absurdo. Esse ponto de vista nada tem em comum com o marxismo. 29
O primeiro programa operário escrito por Marx e Engels, o Manifesto Comunista, foi baseado no materialismo histórico. Nas suas páginas estão concentrados os descobrimentos efetuados um pouco antes pelos fundadores do marxismo e transformados numa orientação de ação para todos os militantes revolucionários, que continua válido até hoje.
Trotsky, no seu texto “A 90 anos do Manifesto Comunista”, afirma:
- “A conceção materialista da história, formulada por Marx pouco tempo antes da aparição do texto e aplicada nele com perfeita mestria, resistiu completamente à prova dos acontecimentos e aos golpes da crítica hostil. Constitui, atualmente, um dos instrumentos mais preciosos do pensamento humano. Todas as outras interpretações do processo histórico perderam todo o significado científico. Podemos afirmar com segurança que, hoje em dia, é impossível ser não só um militante revolucionário, mas mesmo um observador politicamente instruído, sem assimilar a conceção materialista da História.
- “A história de todas as sociedades até aos nossos dias não é senão a história das lutas de classes”. O primeiro capítulo do Manifesto começa com essa frase. Essa tese, que constitui a conclusão mais importante da conceção materialista da História, em pouco tempo transformou-se num elemento da luta de classes. A teoria que trocava o ‘bem-estar comum’, a ‘unidade nacional’ e as ‘verdades eternas da moral’ pela luta entre interesses materiais – considerados como a força motriz da História – sofreu ataques particularmente ferozes por parte de hipócritas reaccionários, doutrinários liberais e democratas idealistas. Posteriormente, agregaram-se a esses os ataques, agora por parte do próprio movimento operário, dos chamados revisionistas, isto é, dos partidários da revisão do marxismo a favor da colaboração e da conciliação de classes. Finalmente, na nossa época, os desprezíveis epígonos da Internacional Comunista (os stalinistas) seguiram o mesmo caminho: a política das chamadas “frentes populares” decorre inteiramente da negação das leis da luta de classes. Entretanto, vivemos na época do imperialismo que, levando todas as contradições sociais ao extremo, demonstra o triunfo teórico do Manifesto do Partido Comunista.” 30
Essas palavras de Trotsky alertam-nos contra aqueles que pretendem separar a teoria do programa, desprezando a contribuição de Engels para o marxismo e abandonando a concepção materialista da história. Essa postura só pode abrir espaço para um idealismo tardio, que acaba por propor uma saída interior ao capitalismo, ou para um desarmamento teórico na elaboração do programa revolucionário.
Notas
- A Obra teórica de Marx. São Paulo: Xamã, 2000, pp. 91-104. ↩︎
- O “testamento” falsificado de Engels: uma lenda dos oportunistas, na revista Marxismo Vivo
– Nova Época n.° 11, 2018. ↩︎ - MARGARIDO, Marcos. “Teria Engels se transformado Engels em um reformista…?”, neste dossiê. ↩︎
- “Como conciliar na mesma doutrina essa apologia da revolução violenta, insistentemente repetida por Engels, aos social-democratas alemães de 1878 a 1895, isto é, até a sua morte, com a teoria do ‘definhamento’ do Estado?”, in O Estado e a Revolução, parte I, item 4. ‘Definhamento’ do Estado e a Revolução Violenta. ↩︎
- Carta-circular de Marx e Engels a August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke e outros
(1879), M&E Collected Works, V. 45. Londres: Lawrence & Wishart, 2010, p. 394. ↩︎ - Refere-se a uma corrente “socialista” da Alemanha que é duramente criticada no Manifesto
Comunista. ↩︎ - Na circular, Marx e Engels reproduzem e condenam o seguinte trecho do texto dos três socialistas sediados na Suíça: “Precisamente agora, sob a pressão da lei antissocialista, o Partido mostra que não deseja seguir o caminho da revolução sangrenta, violenta, mas que está decidido… a trilhar o caminho da legalidade, isto é, da reforma”. ↩︎
- “Segundo a concepção filosófica, o Estado é a ‘realização da ideia’, isto é, traduzido na linguagem filosófica, o reino de Deus na Terra, o campo onde se fazem ou devem se fazer realidade a verdade e a justiça eternas. (…). E as pessoas acreditam ter dado um passo enormemente audaz ao libertar se da fé na monarquia hereditária e jurar pela República democrática. Na realidade, o Estado não é mais que uma máquina para a opressão de uma classe por outra, tanto na República democrática quanto sob a monarquia; e no melhor dos casos, um mal que o proletariado herda depois que triunfa na sua luta pela dominação de classe. O proletariado vitorioso, tal como fez a Comuna, não poderá menos que amputar imediatamente os piores aspectos deste mal, até que uma geração futura, educada em condições sociais novas e livres, possa se desfazer de todo esse velho lixo do Estado. Ultimamente as palavras “ditadura do proletariado” têm voltado a colocar em terror o filisteu social-democrata. Pois bem, cavalheiros, querem saber o que atualmente representa essa ditadura? Olhem a Comuna de Paris: eis aí a ditadura do proletariado!” (original em espanhol, tradução nossa, destaques meus). ↩︎
- Vide, entre outros, A Falência da II Internacional (1915). ↩︎
- GUIMARÃES J. Democracia e Marxismo, São Paulo: Xamã, 1999. ↩︎
- Em seu texto “Marx e a Revolução democrática”, publicado em Democracia Socialista nº 1,
dezembro de 2013. ↩︎ - Segundo Juarez Guimarães, essa posição de Marx teria primado no período 1845-1857. ↩︎
- Sigla com que se notabilizou o chamado materialismo dialético do período stalinista. ↩︎
- GUIMARÃES J. Democracia e Marxismo. São Paulo: Xamã, 1999, p. 83. ↩︎
- Na carta de Engels a Bloch, Londres 21/22 de setembro de 1890: “Segundo a concepção
materialista da história, o fator que, em última instância determina a história é a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx, nem eu afirmamos uma vez sequer, algo mais do que isso. Se alguém o modifica, afirmando que o fato econômico é o único fato determinante, converte aquela tese numa frase vazia, abstrata e absurda. A situação econômica é a base, mas os diferentes fatores da superestrutura que se levanta sobre ela – as formas políticas da luta de classes e seus resultados, as constituições que, uma vez vencida uma batalha, a classe triunfante redige, etc., as formas jurídicas e, inclusive os reflexos de todas essas lutas no cérebro dos que nela participam, as teorias políticas, jurídicas, filosóficas, as ideias religiosas e o desenvolvimento ulterior que as leva a converter-se num sistema de dogmas – também exercem sua influência nas lutas históricas e, em muitos casos, determinam sua forma como fator predominante. Trata-se de um jogo recíproco de ações e reações entre todos esses fatores, no qual, através de toda uma infinita multidão de acasos (isto é, de coisas e acontecimentos cuja conexão interna é tão remota ou tão difícil de demonstrar que podemos considerá-la inexistente ou subestimá-la), acaba sempre por impor-se, como necessidade, o movimento econômico. Se não fosse assim, a aplicação da teoria a uma
época histórica qualquer seria mais fácil do que resolver uma simples equação de primeiro grau. Nós mesmos fazemos nossa história, mas isso se dá, em primeiro lugar, de acordo com premissas e condições muito concretas. Entre elas, são as premissas e condições econômicas as que decidem em última instância.” ↩︎ - LUXEMBURGO, Rosa. Panfleto Junius, A crise da social-democracia (1915). ↩︎
- Ela manteve um intenso intercâmbio de ideias com Marcuse e Erich Fromm. No livro Filosofia
e revolução, prefaciado por Fromm, ela afirmaria: “Em contraste com a perspectiva multilinear, graças à qual Marx se absteve de traçar um programa para as gerações futuras, a interpretação unilinear conduziu Engels pelo caminho do positivismo e o mecanicismo”. Filosofía y revolución, México, cap.9, p. 329. ↩︎ - LENIN, V. I. Friedrich Engels, 1895. ↩︎
- Nota Bene – termo latino que significa ‘preste atenção’. ↩︎
- LENIN, V. I. Cadernos filosóficos. São Paulo: Boitempo Ed. (2010), p. 291. ↩︎
- Idem, p. 292. Nessa citação há uma Nota da edição da Boitempo: ver “Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã”, cit. p. 390. ↩︎
- Idem, p. 326. (Os negritos e destaques são de Lenin). ↩︎
- Idem, p. 335. ↩︎
- Idem, p. 331 (negritas de Lenin). ↩︎
- “El significado del materialismo militante”, 1922 em Obras Completas, Tomo 45, Ed. Progreso (original em espanhol, tradução nossa). ↩︎
- “Las tendencias filosóficas del burocratismo”, in Escritos filosóficos. Buenos Aires: CEIP, 2011,
p. 157 y pp. 159-160 (original em espanhol, tradução nossa). ↩︎ - TROTSKY, León. En defensa del marxismo. (original em espanhol, tradução nossa). ↩︎
- MARX, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: ed. Escriba, 1968, p. 15. ↩︎
- TROTSKY, Leon. Resultados e Perspectivas (1906). ↩︎
- TROTSKY, Leon. “A 90 anos do Manifesto Comunista”, 1937. ↩︎